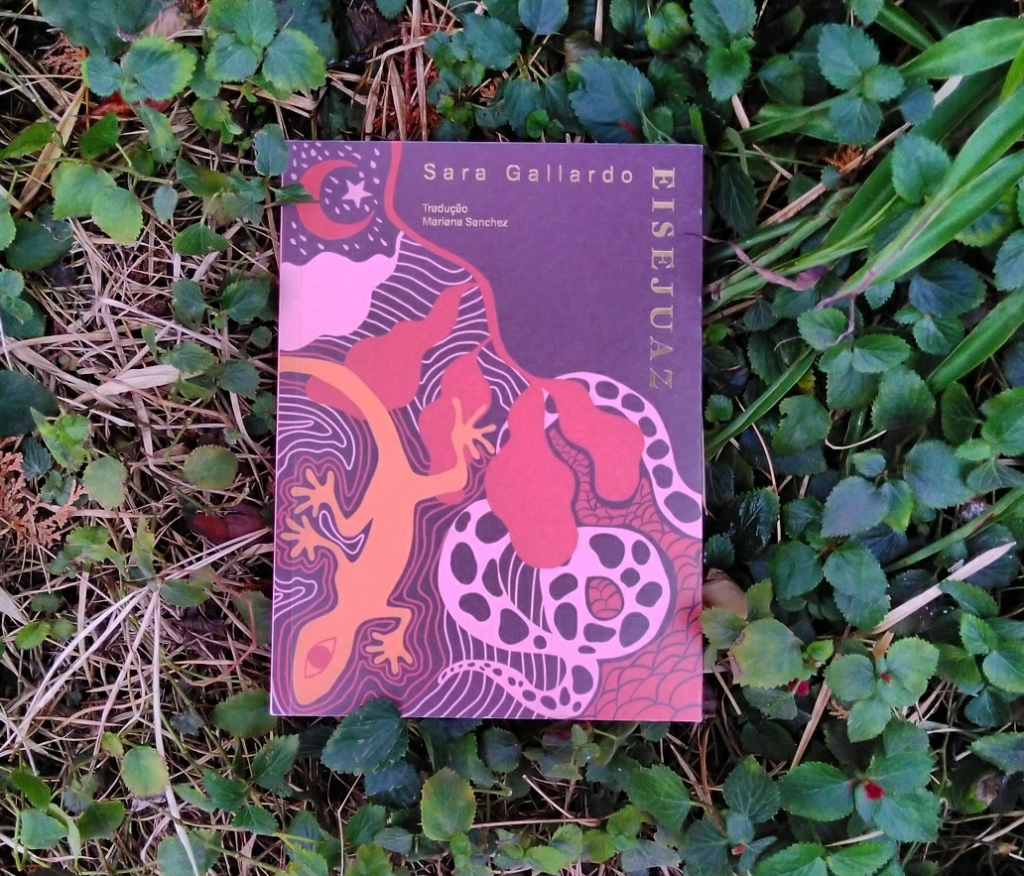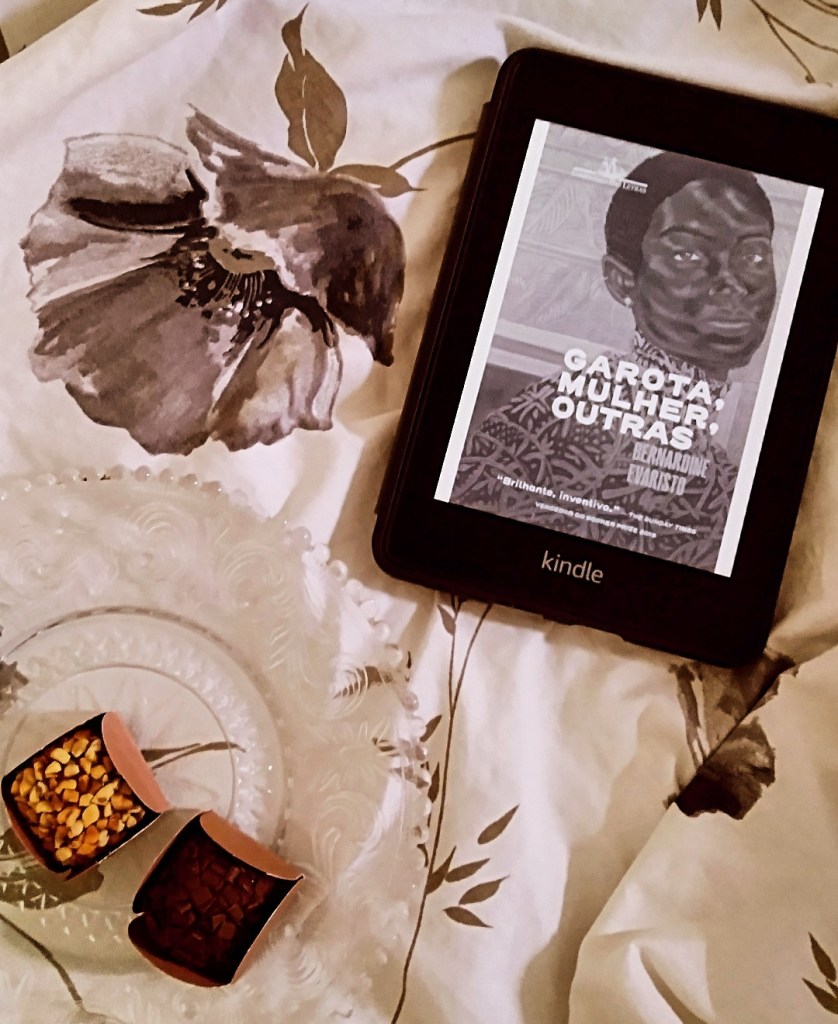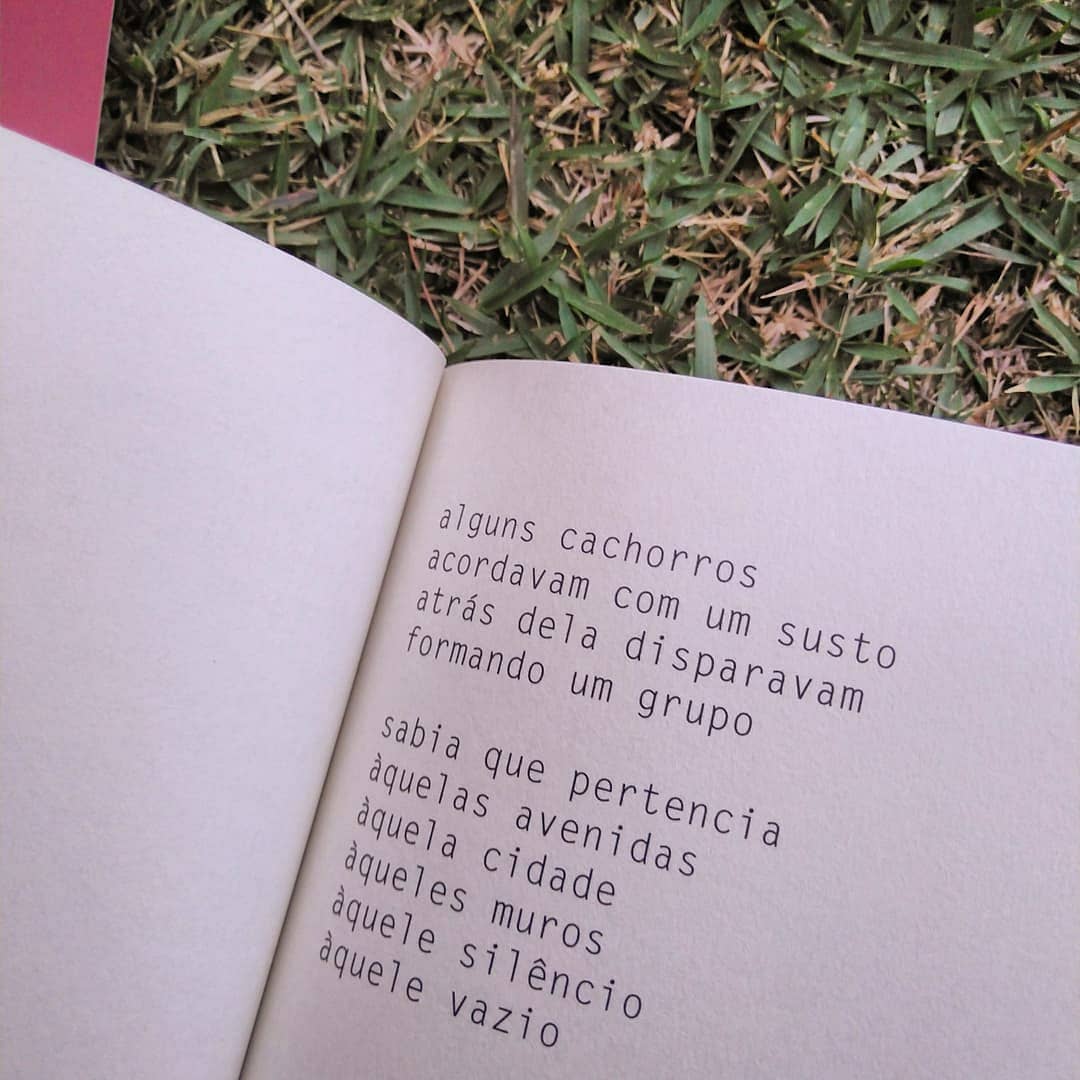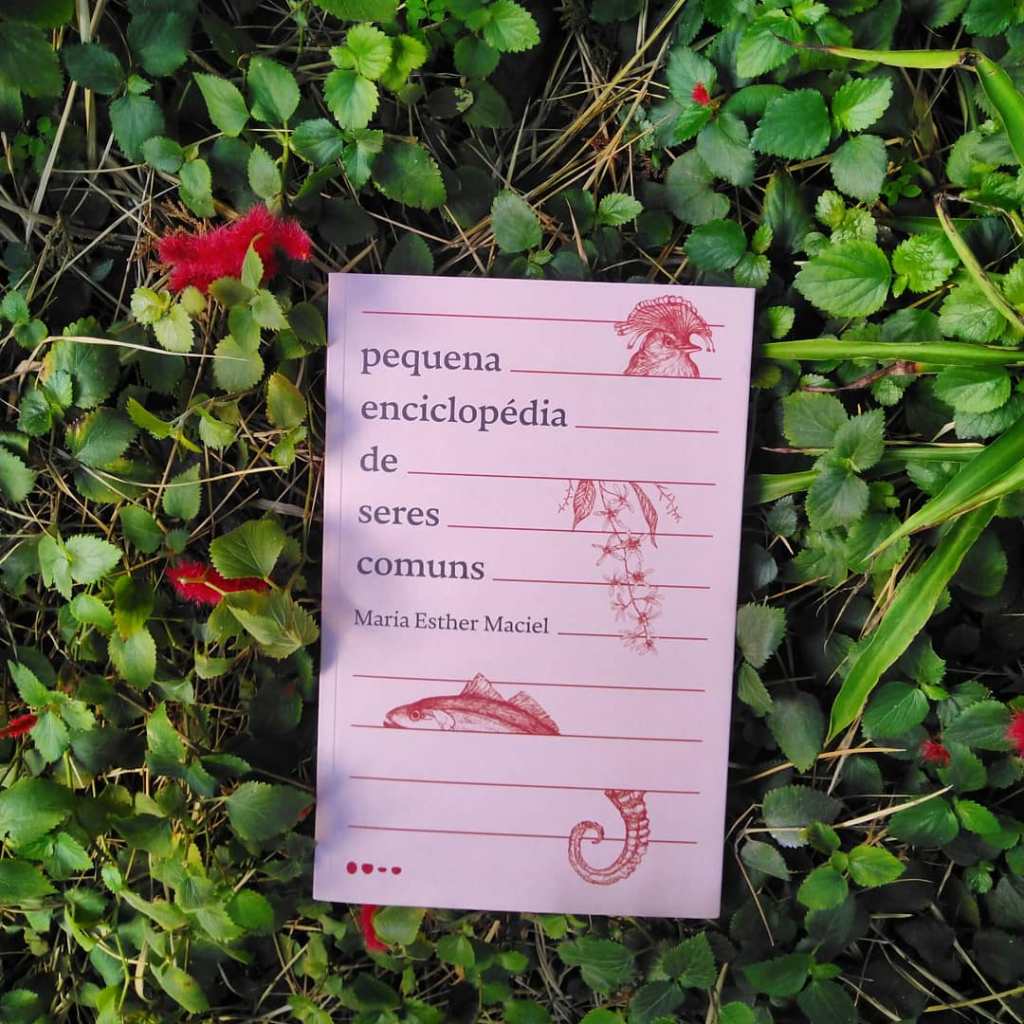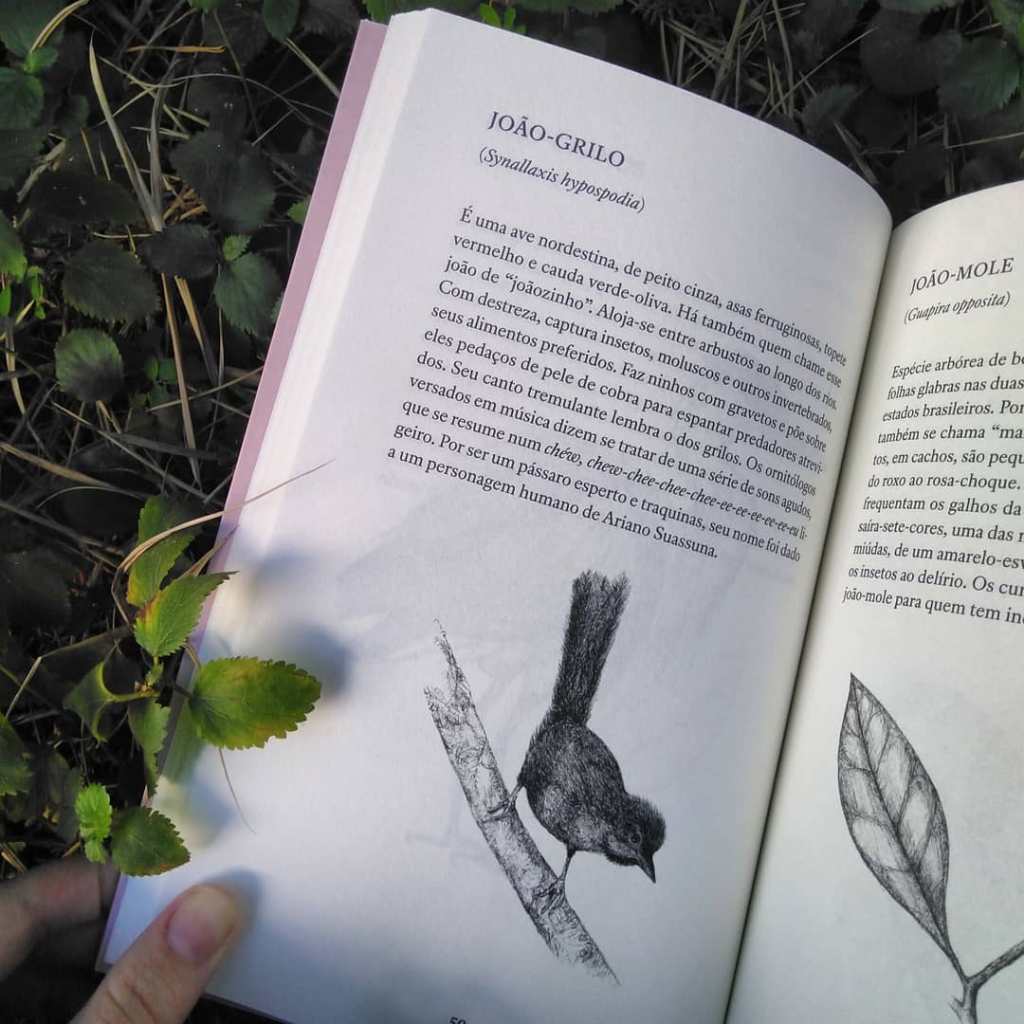Antônio Candido disse uma vez que o tempo é o tecido da nossa vida. Com essa frase, ele defendia o direito à literatura por considerá-la uma força humanizadora, uma forma de resistência ao capitalismo que se apossou daquilo que nos molda. A partir dessa perspectiva, penso que a memória é o nome que o tempo ganha quando é marcado pelas vivências, nossas ou dos nossos. Se tempo é uma palavra abstrata, de difícil apreensão, a memória talvez seja diferente. Enquanto palavra, sem qualquer outro complemento, a memória já evoca algo dentro da gente: uma história que alguém nos contou, uma cena, um momento, um fragmento daquilo que somos, do tempo que pertencemos.
Tempo também pode ser questão de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios, uma definição que tenta nos iludir sobre o grau de controle e conhecimento que temos de tudo isso enquanto humanos. Ou mesmo clima. O tempo pode estar ou não bom pra se sair de casa, fazer uma caminhada ou render uma boa colheita. O tempo assim parece mais simples, mais simples até que a memória. Parece definitivo, certeiro, algo que pode existir em forma de calendário. É um terreno perfeito para planos. O tempo é para nós também todas essas convenções, mas a memória é o nome que o tempo, em qualquer uma de suas concepções, ganha quando encontra um eu.
Ponciá Vicêncio, romance de estreia de Conceição Evaristo, existe, porque existe um tempo e ele é o tecido de nossas vidas. E as vidas se constituem e se constroem a partir da memória. E é seguindo essa lógica que a história da protagonista que dá nome ao livro se desdobra, mostrando que memória é o que nos forma enquanto indivíduos, ou personagens, mas é também o que nos liga aos outros, ao mundo. Somos o que nos é contado e também o que é silenciado, somos fruto de narrativas que envolvem muitas gentes, memórias e heranças, somos essa mistura entre eu e nós. Enquanto romance, essa história é sobre o tempo que circunda a existência dessa personagem que vive uma vida negra anos após a abolição da escravatura, mas sente em seu corpo, sua mente e em seu entorno o que restou da época anterior. E restou muita coisa e todas elas permanecem como uma herança dolorosa de um passado que não foi completamente embora.
Conceição Evaristo constrói essa narrativa e sua protagonista a partir de pedaços: costura retalhos — ou cola caquinhos — de quem foi Ponciá com a Ponciá do presente, enquanto, a partir dos laços familiares, monta um cenário mais amplo que o próprio tempo da protagonista. Ponciá se vê responsável por ser guardiã da memória dos seus e lembra, lembra e lembra, vivendo de lembrar. Estando longe e vivendo o que seu tempo reserva, é isso que resta. A memória se manifesta no enredo a partir dos fragmentos, das idas e vindas entre tempos, da trajetória que se conta nessa linearidade própria das lembranças, e, estruturalmente, vem também a partir da repetição de nomes, de cenas, de imagens, das percepções e sensações. Os nomes tão ditos são uma reafirmação de vínculo, de existência e um lembrete da negação da humanidade de muitos. Vicêncio é um nome que não é tão nome, é marca de um passado que insiste em continuar à maneira da branquitude.
A memória é para a protagonista um chamado, o que resta de uma subjetividade esmagada pelas faltas, pelas perdas, pela violência da vida, que é marcada por seu gênero, classe e cor. Nesse sentido, entre tantas coisas, chama atenção a saudade que ela sente de moldar o barro. A mão coça, ela diz. Ela precisa estar perto do rio, usando as mãos pra moldar essas memórias que são seu destino. Nisso me vem uma dúvida: memória também pode ser desejo? Se é possível ser assombrado pela falta, também existe o fantasma do querer. Volto então ao barro: as peças que Ponciá fez com sua mãe são reconhecidas em um passeio que seu irmão faz em um museu. Os nomes delas estão ali como criadoras, mas as peças pertencem a um nome desconhecido, o do proprietário. Parte da memória daquela família ainda está nas mãos de um outro alguém e é assim que é apresentada no espaço que se coloca como guardião da história, da memória.
O tempo é o tecido da vida, múltiplas linhas se cruzam e entrecruzam, formando uma malha que serve de cenário-personagem-enredo, que formam passado, presente e futuro, formam eus e nós. E talvez também eles. O tempo forma a memória e a memória é algo que não pode ser completamente destituído de uma pessoa, mas que ainda assim acaba no terreno da investigação e recuperação dependendo da sua origem, etnia, cor de pele. Conceição Evaristo então escreve essa história, porque lembrar, lembrar e lembrar, e depois contar, seja pela via da ficção ou não, é resistência, é força humanizadora, e também uma espécie de destino, porque essa história não é só a de Ponciá.
Se você gostou desse texto, deixe um comentário, compartilhe com seus amigos e me acompanhe também pelo Medium, Facebook, Twitter, Tinyletter e Instagram. Se interessou pela obra citada no texto? Compre “Ponciá Vicêncio” com meu link da Amazon.