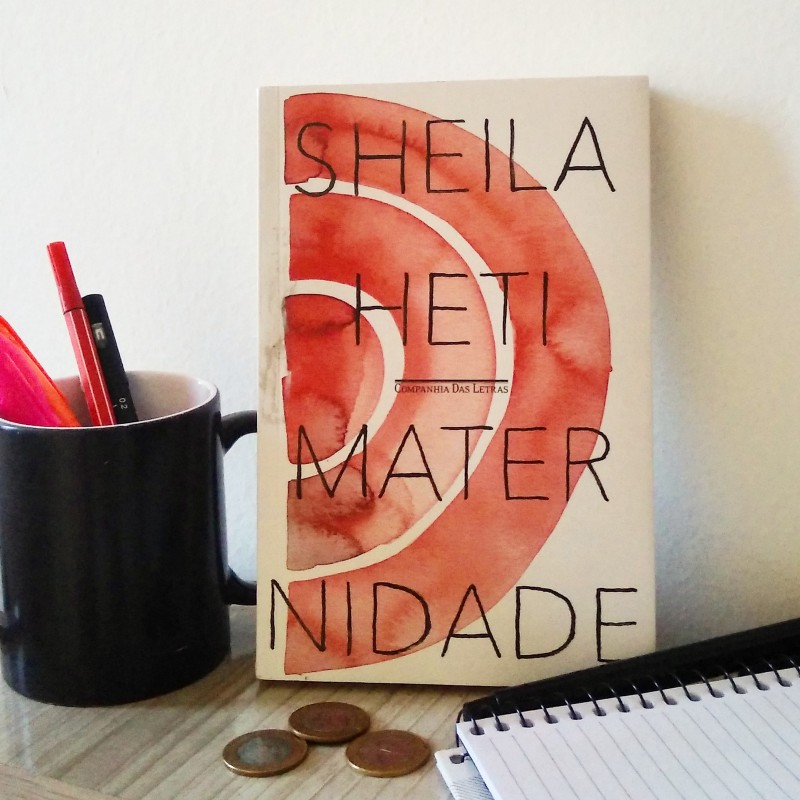Falar de cuidado de pele como um momento para si não cola para mim. De todas as coisas que alguém pode fazer para se curtir, por que quando se é mulher tudo acaba se relacionando com aparência?
Fora que o cuidado de pele nesses casos é a busca da pele perfeita, aquela que parece maquiada mesmo sem estar, e não um simples e necessário uso de protetor solar ou algum outro produto, como hidratante, recomendado por médicos para situações específicas. (Ainda que eu ache que as pessoas se sintam mais inclinadas e cobradas ao cuidado no sentido de saúde quando aquilo incomoda também a aparência.)
Toda vez que vejo alguém com esse discurso, eu lembro de gente dizendo “você precisa se cuidar” como sinônimo de fingir que é de plástico. Rotina de skincare agora anda junto com depilação, unha feita, cabelo tratado e pintado e outras práticas relacionadas à estética e que também passaram a ser consideradas uma forma de autocuidado.
Ou seja, o papo autocuidado se tornou uma versão mais palatável do controle e da preocupação com aparência. O que mudou é que atualmente tudo isso ganhou o rótulo de moderno, saudável e responsável. Parece que agora a gente precisa ser uma mulher linda que não parece se importar tanto em ser uma mulher linda, mas ainda assim é, porque se cuida de forma muito natural, saudável e, claro, com muito prazer. Afinal, agora é o tal do autocuidado que nos move. A gente tem que fazer as coisas chatas, caras e impostas como se aquilo nos completasse e nos fizesse sentir livres, leves e soltas. Se não fizermos, somos coitadas sem amor próprio.
O motivo da gente engolir tão facilmente que rotina de skincare ou qualquer outra coisa do tipo é autocuidado ou um momento para si é o medo que temos de sermos vistas como fúteis por nos preocuparmos com a aparência e com os efeitos do envelhecimento como nos é imposto. Só que isso acaba naturalizando a neura da beleza como parte do feminino, da autoestima e do cotidiano e isso afasta as mulheres, cada vez mais, de ter uma relação um pouco mais tranquila com tudo que se relaciona com aparência e inseguranças relacionadas.
Tudo bem fazer as coisas para se sentir mais bonita ou menos feia. Tudo bem chamar de vaidade ou algum outro termo correlato. O problema é pintar tudo isso como algo necessário e relacionado com o tal do autocuidado e do tempo de qualidade consigo e não pensar no que certas práticas inseridas no nosso cotidiano significam. Inclusive no sentido de imposição. É muito ruim se importar tanto com aparência, colocar esse tipo de questão como uma prioridade nas nossas vidas, mas a gente não precisa fingir que a questão é outra. Quanto mais a gente mascarar, mais dependentes ficaremos disso.
Questionar essas coisas não é dizer simplesmente que se importar com aparência está proibido ou é necessariamente errado. É somente uma tentativa de entender melhor o que nos afeta, o que afeta as mulheres enquanto grupo e o que interessa ao capitalismo, ao patriarcado e também ao racismo que promove, por exemplo, o uso de clareadores de pele e outros produtos como alisadores de cabelo.
Observação #1: Essa crítica que fiz, inclusive, não quer dizer que eu sou uma pessoa que vive livre de imposições estéticas ou que eu não neure com isso ou que eu nunca tenha passado um creme hidratante na vida. São só reflexões.
Observação #2: Esse texto é fruto da soma de vários tweets que postei há alguns dias em minha conta pessoal do Twitter + uma leve edição para que essa bagunça virasse um membro típico do gênero Textão de Facebook™, porque eu também quis postar sobre por lá.
Observação: #3: Aconselho ler a thread do Twitter inteira, porque rolou muitos comentários ótimos de outras pessoas e que, por não serem meus, estão de fora do texto. Inclusive, há até uma discussão bem interessante que envolve mulheres com deficiência e estética. Não deixem de ler!
Observação #4: Essa thread fez surgir conversas envolventes, mas, além delas, também rolou comentários agressivos. Por causa deles, serei obrigada a escrever no futuro próximo um texto de humor exagerando as reações bizarras que recebi ao compartilhar essas reflexões numa rede social em tempos como os nossos. Posso adiantar que a galera parece partir do pressuposto que eu falei que está terminantemente proibido fazer skincare e iniciei o recolhimento compulsório dos produtos com a finalidade de jogá-los no lixo, sendo que eu só acho que a gente precisa entender o porquê de fazermos certas coisas e acatarmos certos discursos. É preciso assumir o que nos move para isso, chamar as coisas pelo nome correto, entender as forças envolvidas, etc.