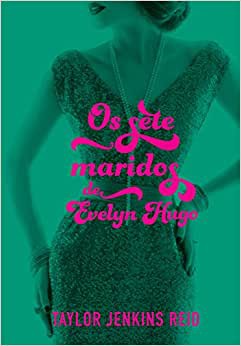Aprendi ainda criança a diferença de estórias e histórias. O termo que começa com vogal, considerado arcaico para muitos mesmo quando eu estudei sua existência, servia para designar as coisas folclóricas, as narrativas populares, os “causos” e contos ficcionais, enquanto a história com H e sem plural era sobre o estudo do passado, a ciência que tenta entender o hoje a partir do que um dia se deu, o estudo dos fatos reais.
Hoje usamos história para tudo, podendo colocar no plural para falar principalmente de ficção. O que me parece acertado, porque às vezes o que chamaríamos de estórias com E são narrativas essenciais para entender o que diz a história com H. Essa história que parte de documentos oficiais, das narrativas mais importantes e que às vezes vem de uma parcela mínima de uma população e é usada para falar de todo um tempo e contexto.
“A Casa dos Espíritos”, primeiro e mais famoso romance de Isabel Allende, é uma dessas obras que, apesar de ser ficcional, ajuda o leitor a entender o que se passou em um país durante parte do século XX. A partir de um drama familiar, a autora expõe o Chile como ele foi, ainda que parta de uma narrativa que vem de participantes de uma certa elite. Violências, disputas, desigualdades, são todas expostas, enquanto Isabel Allende trabalha também ideias abstratas como a força do amor, dos afetos, das trocas, da delicadeza e generosidade, sem esquecer de antagonizar tudo isso com horror do ódio e da negação da realidade.
O romance tem uma narrativa marcada por uma exposição crítica de fatos sociais e históricos do Chile, como a Ditadura Militar e o acirramento de ânimos causado pela desigualdade e a manipulação e uso do poder e do dinheiro pela elite. E, apesar do realismo cru de certas passagens, como o uso e a violência do corpo das mulheres mais pobres por parte dos patrões, há também muita magia. Essa magia que é colocada como marca da literatura latino-americana, apesar da força do cristianismo na região.
Espíritos, previsões, superstições, sabedorias ancestrais, mapas astrais, toda essa espiritualidade solta, que tenta ser livre de dogmas, aparece na obra como uma manifestação da necessidade de se manter além daquela violência terrena. No meio de tanto sangue e dor, a magia e as histórias fantásticas parecem ser uma maneira de manter algo maior vivo, algo próximo do amor. Algo que parece faltar nesse mundo que no livro se manifesta como o mais próximo do real possível e critica e expõe o que foi o Chile.
Isabel Allende nos entrega uma obra que nos faz pensar nos laços familiares, na complexidade dos afetos e como as disputas que ocorrem dentro de casa são uma manifestação do resto do mundo ao redor. Esse mundo ao redor que parece estar sempre pronto para explorar corpos ditos femininos e fazer mais uma tragédia latino-americana acontecer.
“A Casa dos Espíritos” tem uma força especial porque a mera existência dessa história ficcional serve como lembrança de um período histórico que ainda sofre com tentativas de disputas de narrativas. Esse é um livro que evoca a importância da memória, tanto no sentido privado, quanto público, da cultura e do repúdio ao autoritarismo e exploração a partir da desigualdade, inclusive a entre homens e mulheres.
Nesse sentido, esse clássico nos ajuda a pensar no passado ditatorial da América Latina e do Brasil e, infelizmente, também no que se passa hoje, em maio de 2020. Estamos cada vez mais distantes do que aprendemos a chamar de democracia. Parece ter restado apenas uma espécie de carcaça democrática que vive da continuidade daquilo que ainda não foi aparelhado e da possibilidade de denúncia midiática. O resto parece já ter ido embora ou estar em processo de.
É impossível não pensar se vamos ficar “só” nisso ou se nesse afã de entregar tudo ao estrangeiro, militares e elite iremos chegar até as torturas, ameaças e desaparecimentos de novo, além dos que acostumamos a ver dentro do regime democrático como um vestígio de nossa história. E também é impossível não pensar nas consequências que a omissão proposital a respeito do coronavírus e o negacionismo científico sobre a pandemia podem causar.
Me parece até que, mesmo sem qualquer aparição, Clara ou seus espíritos estão tentando falar com todos nós, nos colocando alertas ao que pode vir acontecer ao nos lembrar do que já aconteceu. Tudo a partir do livro, que mostra até onde a força do ódio pode chegar e nos faz refletir sobre o quanto certos governos, como o de Bolsonaro, parecem ter como premissa deixar morrer. E o quanto eles agem ativamente para fazer essa agenda acontecer além da doença que nos encerra em casa no momento. Sempre com ameaças de serem mais ativos ainda. Com ameaças que parecem um retorno ao passado que eles adoram negar enquanto o homenageiam. Um passado que é lembrado de forma literária e crítica por Isabel Allende nessa obra publicada em 1982, quando tudo isso ainda era bem recente e próximo e as narrativas estavam em plena disputa.
Se você gostou desse texto, deixe um comentário, compartilhe com seus amigos e me acompanhe pelo Medium, Facebook, Twitter, Sweek, Wattpad, Tinyletter e Instagram. Se interessou pelo livro? Adquira um exemplar aqui.