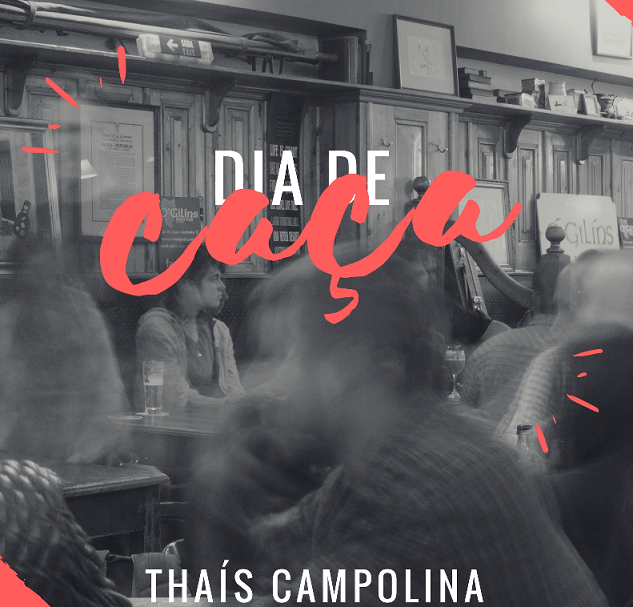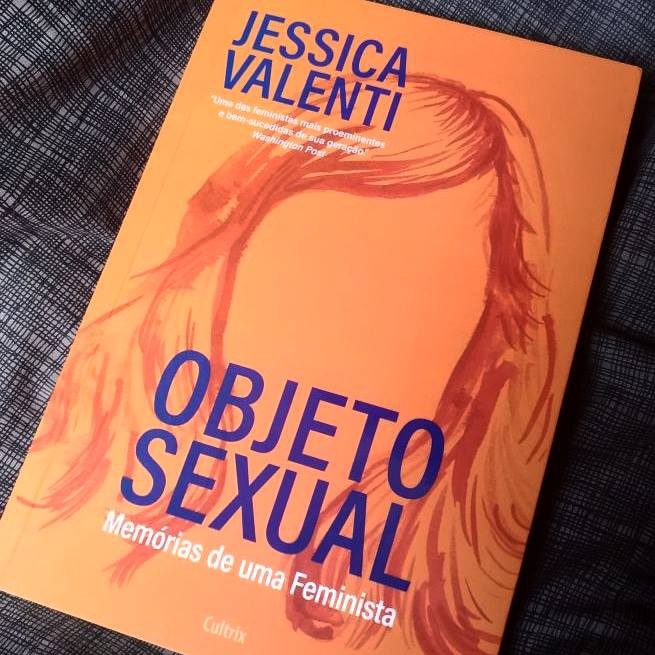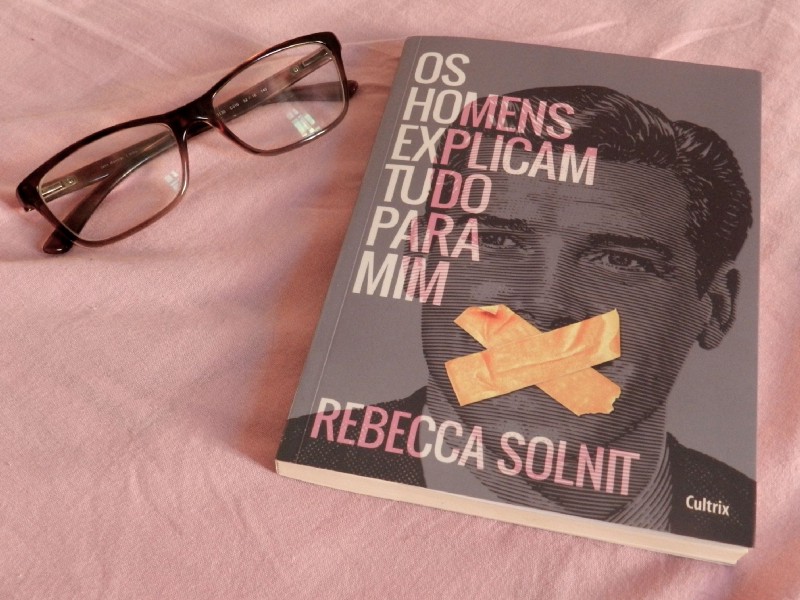Baronesa é uma palavra utilizada para se referir às mulheres que receberam o baronato, um título de nobreza. Além desse significado de origem monárquica, Baronesa também é o nome de um bairro de Santa Luzia, cidade da zona metropolitana de Belo Horizonte, e o título de um filme dirigido, roteirizado, produzido e protagonizado por mulheres.
Quando Juliana Antunes, diretora da obra, se mudou para a capital mineira, ela notou um certo número de bairros que levavam nomes de mulheres. A maioria deles, periféricos. Isso a provocou e ela começou a pesquisar sobre, ir até eles e, depois de um tempo, o filme surgiu.
A premiada obra é centrada em duas personagens: Andreia e Leidiane. Leid espera o marido preso e cuida de seus filhos pequenos. Andreia quer se mudar e começa a se organizar para isso. A história é uma amostra do cotidiano e não segue os padrões de filme ficcionais. As personagens interpretam uma versão delas mesmas e a narrativa é uma vida que somente acontece.
Conversas, implicâncias, cumplicidade, afetos. Tudo isso faz parte do filme e também da vida. Só que em Baronesa — e na realidade de muita gente — o afeto existe lado a lado com a violência. Tiros, correria, a câmera caída. A violência interrompe uma conversa entre amigas sobre desigualdade.
Numa cena, Negão e Andreia conversam sobre a guerra entre os traficantes locais. Ele veste um colete à prova de balas e eles brincam sobre testá-lo. Andreia está com uma arma na mão. A conversa ora é séria, ora não é, mas está evidente que o assunto entre eles é também sobre a sobrevivência de si e dos seus. A morte e a tragédia parecem estar sempre à espreita.
O filme dá voz às mulheres antes escondidas em espaços privados e de cuidado e empregos precários. Nos diálogos, a gente observa que o único destino possível para elas parece ser esse, enquanto o dos homens dali, a maioria das vezes, é a prisão ou a morte.
Mas, além da violência, o filme também trata sobre afeto. Junto com uma amiga, as protagonistas conversam sobre vida sexual, enquanto bebem cerveja. “Cê pode gozar à vontade”, Andreia diz sobre masturbação, enquanto Leid ri constrangida. Elas batem papo, se aconselham e se apoiam. Entre elas, há uma cumplicidade que envolve até mesmo romper o silêncio sobre violência sexual e fazer recomendações sobre cuidado dos filhos em relação a esse assunto.
Essas mulheres são parte de um todo. Um todo que muitos fingem não ver. Juliana Antunes compartilhou que uma das dificuldades que teve para realizar o filme envolveu o fato de que as mulheres precisavam de autorização masculina para gravar. Com essa informação, é impossível não questionar: “Quantas histórias seguem invisíveis por causa do machismo?”.
Mesmo quando se aborda a vida na periferia, o que não é tão frequente assim, os homens são o foco. Quando um filme se propõe a ser diferente e é um projeto que envolve também pessoas reais, algumas mulheres podem acabar ficando de fora simplesmente por viverem numa cultura que as coloca como seres que devem obediência aos homens de suas famílias.
O trunfo da obra é tratar o cotidiano de forma atenta ao algo mais. A narrativa não foca em um recorte específico da realidade. Ela aborda um todo e isso envolve expor diversos problemas sociais, mas não ficar só nisso. A discussão é proposta, mas a voz delas não fica resumida apenas às dificuldades e denúncias. Nesse filme, as personagens se fazem presentes em várias nuances e protagonismo feminino é isso.
Confira o trailer:
Se você gostou desse texto, deixe um comentário, compartilhe com seus amigos e me acompanhe pelo Medium, Facebook, Twitter, Sweek, Wattpad, Tinyletter e Instagram.